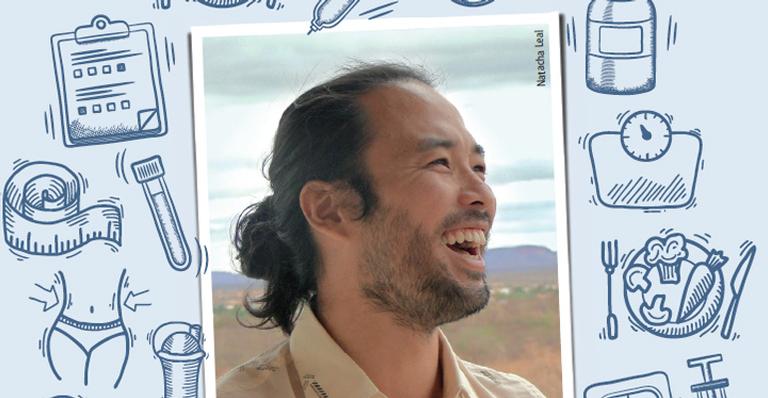Parece que, da noite para o dia, a perfeição virou um dever universal. Sentir ansiedade, chorar a perda de uma pessoa querida, render menos no trabalho, terminar um relacionamento. Tudo isso passou a ser um tijolinho a menos no modelo de perfeição que aprendemos a construir a cada dia. O que ninguém conta é que a perfeição é um molde estreito, que enrijece a alma e tira a maleabilidade da vida. Mas o sofrimento e a dificuldade ajudam a definir quem somos e nos ensinam a seguir em frente com mais compaixão, pelos outros e por nós mesmos. Tentar evitá-los a qualquer custo, tomando até mesmo remédios desnecessários, é abdicar da jornada mágica do autoconhecimento. É o que explica o antropólogo Rui Hassato Harayama, membro da secretaria executiva do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, um movimento criado em 2010 por um grupo de profissionais de várias áreas que organizam encontros periódicos para discutir a transformação de questões cotidianas em problemas médicos. Na entrevista que você lê nas próximas páginas, o antropólogo conta por que nos forçamos sempre a caber em padrões e como a nossa cultura favorece uma prática cada vez mais comum no Brasil: a de tratar as emoções com medicamentos e com isso anulá-las. Você vai ver que viver suas contradições e
imperfeições faz caber mais mundos e sonhos dentro da sua alma.
A venda de remédios para dormir, acordar, eliminar o primeiro sinal de tristeza e ansiedade tem crescido ano a ano no Brasil. Por que cada vez mais gente recorre a comprimidos para aliviar as emoções?
A neurociência passou a reforçar o mito de que o cérebro é o órgão mais importante do corpo humano, posição que durante muito tempo ficou a cargo d do coração. Antes dela, éramos obrigados a criar formas de tratamento e reinserção social de um “doente mental” ou de uma pessoa com problemas emocionais. Depois, questões de ordem social, cultural ou familiar viraram um mal cerebral. Como explicar as tentativas de suicídio de um jovem homossexual ou negro ou o desempenho fora do
padrão de uma criança na escola? Com um desequilíbrio químico cerebral, que pode ser resolvido – ou pelo menos controlado – com um comprimido. Isso é o que chamamos de medicalização da vida. O Brasil sempre foi um grande mercado de medicamentos. O que vem ocorrendo desde o meio da década de 1990 é a intensificação de uma associação direta entre doença, tratada com remédio, e “distúrbio da alma”, tratado com medicações que alteram a química cerebral. A década de 1990 foi um marco porque naquele período os Estados Unidos anunciaram a Década do Cérebro no país, estimulando estudos nessa área e popularizando uma nova disciplina, a neurociência. Os pesquisadores criaram programas com grande apoio da indústria farmacêutica. Até ali, a psiquiatria era extremamente psicanalítica.
Prescrevia-se terapia para tratar a mente. Com a neurociência, emoções alteradas viraram doenças do cérebro, causadas por questões orgânicas que geram um desequilíbrio entre substâncias dentro da cabeça. Seguindo essa nova lógica simplista, os médicos começaram a receitar reguladores químicos dos neurônios, os psicofármacos. Essas novas drogas foram criadas para tratar cérebros escaneados por aparelhos que produzem imagens coloridas de ressonância magnética. Como mostrou um estudo recém-publicado, essas imagens têm diferentes interpretações a depender do pesquisador e da calibragem da máquina. No Brasil, o que começamos a ver, e os dados mostram isso, é que a cada ano mais pessoas usam psicofármacos de forma regular. E há muitos caminhos para chegar até esses remédios, desde
a indicação de colegas do trabalho até consultas com médicos que não necessariamente são psiquiatras, como endocrinologistas, pediatras e clínicos gerais. Promove-se um estilo de vida em que não há barreiras para a felicidade, porque qualquer problema pode ser resolvido com uma pílula. E a perfeição vai se tornando um imperativo inquestionável.
Houve uma banalização dos remédios que mexem com a química cerebral?
As drogas fazem parte da história da humanidade. O café é um estimulante. A heroína já foi remédio. A cocaína era considerada uma substância revigorante, indicada para melhorar o humor e presente em várias formulações de remédios no século 19 e começo do século 20. Talvez o nosso maior desa o seja construir uma autonomia diante dos fármacos. É preciso questionar se estamos usando essas substâncias ou sendo usados por elas. O Brasil é um dos grandes consumidores do neuroestimulante
cloridrato de metilfenidato, princípio ativo de medicamentos como a Ritalina. Tem gente que toma Ritalina para ficar acordado e conseguir estudar para a prova, trabalhar por muito mais horas que o corpo consegue aguentar sem a droga, controlar comportamentos como inquietação ou falta de foco. Uma professora da rede estadual mineira que conheci tomava tranquilizante em gotas junto com café para aguentar a sala cheia de alunos que não paravam quietos. Os dados de consumo de
clonazepam, princípio ativo do calmante Rivotril, são alarmantes no Brasil. Em 2013, o país foi o maior fabricante de clonazepam do mundo, com a fabricação de 3,2 toneladas da substância pura. Nesse mesmo ano foram vendidas quase 5 milhões de caixas do medicamento (dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Anvisa). A vulgarização do uso do calmante é tamanha que sabemos que em capitais como Vitória (ES), Natal (RN) e São Paulo (SP) a proporção é de cinco caixas
vendidas a cada 100 pessoas. O que os dados não mostram é que o uso prolongado desses medicamentos pode causar demência e Alzheimer. Essa é a nossa realidade. Encaramos como doente o trabalhador que se apresenta no serviço alcoolizado, mas não consideramos grave a quantidade de professores que se dopam com calmante para dar aula.
Vivemos um culto à perfeição?
Toda época tem uma noção muito particular sobre o que é bom. O discurso da vida ideal é algo que encontramos no relato de diferentes povos e em diferentes épocas. Adão e Eva nos ensinam sobre como tudo era perfeito antes do pecado original. Estamos sempre às voltas com a moralidade e o modo certo de viver. O conceito de perfeição é altamente cultural e histórico. A mulher idealizada no Renascimento não é considerada perfeita nos dias de hoje. Sempre houve o culto à perfeição,
que é ao mesmo tempo uma imposição sociocultural e uma ficção, porque trata-se do que se considera ideal, e não uma realidade. Mas hoje ele permeia todas as áreas. Ora, todo ano, em muitas empresas, o setor de recursos humanos pede que os funcionários façam uma autoavaliação de desempenho e digam em que pontos
cada um pode melhorar. Parece uma pergunta boba, mas ela traz de forma implícita o questionamento: que partes da sua versão perfeita você não foi capaz de atingir? Esse processo acontece o tempo todo, em todas as esferas: criamos um reflexo mais perfeito do que nós, para que no próximo ano, na próxima avaliação, possamos atingi-lo. Mas a perfeição nunca é alcançada. E então estabelecemos cada vez mais uma autoimagem de ciente, de quem não consegue ser completo nem bom o
suficiente. O resultado são pessoas insatisfeitas com elas próprias, que aprenderam que a imperfeição deve ser motivo de sofrimento. Nesse sentido, a perfeição pode ser entendida como sinônimo de adequação a normas estabelecidas em qualquer campo. A terceira idade deve ser ativa sexualmente, crianças de 6 anos são obrigadas a ficar sentadas em carteiras escolares e aprender a ler e escrever até os 9 anos, independentemente do tempo de desenvolvimento de cada uma. Esses imperativos do “tem que” criam um espaço de incerteza. E as crianças que não aprendem, os idosos que não querem fazer sexo e as mulheres que têm tensão pré-menstrual são enquadrados
em algum tipo de anormalidade. Isso gera frustração e o sentimento de que há algo errado, de que há uma doença que precisa de remédio.
Como as redes sociais reforçam o desejo pelo ideal?
Elas geram autoimagens que não correspondem à realidade. E isso não acontece porque os usuários trabalham as informações antes de publicar ou produzem cuidadosamente uma foto. Não é uma questão de tentar melhorar a autoimagem. O que acontece é que as pessoas mostram apenas certas características
da própria rotina: “Eu curto”, “Eu viajo”, “Eu tenho uma opinião”. É uma edição da totalidade. Esses fragmentos viram modelos de vida irretocável, como se cada um negasse a existência de todo o restante que nos completa e nos define.
Como lidar melhor com a imperfeição?
Precisamos dar outro significado ao nosso conceito de imperfeição. Nossa noção de perfeição é matemática, ligada a métricas e repetições de um padrão. Quando dizemos que um vaso é perfeito, estamos olhando o objeto com um olhar já treinado sobre como um vaso deveria ser. Com essa percepção preconcebida, é muito difícil abrirmos espaço para o inesperado. O que foge da expectativa torna-se feio ou exótico. Se pensarmos no caso das porcelanas japonesas, existe toda uma técnica de perfeição que alia o trabalho do artesão aos materiais que ele vai produzir. É por isso que a tradicional cerâmica japonesa tem um problema com padrões, porque
para eles um vaso é o resultado da relação da técnica do artesão com o meio, o barro, o fogo, o ar. Isso cria um processo autoral, que se recusa a associar o perfeito a um molde. Nem por isso o resultado deixa de ser belo e harmonioso. O mesmo acontece com o ser humano. Somos projetos autorais e nossas imperfeições fazem parte de nossa beleza.
As mulheres são especialmente afetadas pela medicalização. Há estudos mostrando que elas são mais propensas a dores. Existe algo além da biologia atuando nisso?
A história da ciência foi construída sobre ações sucessivas de controle das populações vulneráveis. Logo no fim da escravidão, surgiram diversas síndromes e transtornos mentais para justificar a imposição da inferioridade da população negra. A “histeria” feminina era uma questão médica no século 19. O tratamento se dava
com o estímulo do clitóris feito por um médico. Isso nos ajuda a perceber como esse tipo de discurso que naturaliza as mulheres como sendo mais propensas a dores físicas e de alma são dispositivos para a dominação social delas. Até hoje existem discussões médicas sobre a tensão pré-menstrual. Os estudos buscam no ciclo hormonal e na trajetória dos ovários argumentos para justificar a medicalização do corpo feminino.
Qual a importância da tristeza, da ansiedade e da dor?
Clifford Geertz, um antropólogo dos Estados Unidos, dizia que a religião não servia para nos ensinar a consolar uns aos outros, mas para nos ensinar a sofrer. Muitas das
experiências humanas são mediadas por sentimentos confusos ou desa adores, como a dor, a tristeza, a ansiedade. Vivenciá-las nos leva ao aprendizado de quem somos. Só que há cada vez mais médicos nos ensinando como interpretar nossos sentimentos, e isso é perigoso. Existe um livro de referência na psiquiatria chamado Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM, da sigla em inglês), atualizado periodicamente com informações para que os médicos identifiquem problemas
da mente. Na última versão, de 2013, está escrito que um luto por mais de duas semanas é depressão. É um exemplo claro de como a dor foi transformada em patologia.
A filósofa Viviane Mosé já disse que somos uma sociedade infantiloide que aguenta pouco o sofrimento. Você concorda com ela?
Com certeza podemos ser considerados como uma sociedade que quer eliminar a tristeza a todo custo. Mas não qualquer tristeza – só a própria. Veja o sucesso que os reality shows fazem no Brasil. Ver um programa desses é confortável, porque a dor não é sua, é do outro, por mais que você se sensibilize. O sofrimento coletivo é praticamente exaltado. Os desastres, as tragédias, os atentados terroristas parecem ajudar a blindar a própria vida do sofrimento, porque essas experiências não se passam com você. Muitas vezes, elas acontecem com pessoas estranhas e em lugares distantes. Ou seja, tristeza, só com o outro. Tem também uma questão cultural. Ser triste no Brasil é praticamente uma afronta. Afinal de contas, temos o Carnaval, o calor humano, as belas paisagens. Não há espaço para sentir dor.
Parece que a depressão está aumentando, a arte encruando, a vida esperando. Esquecemos que viver é um kit completo?
Isso acontece porque, se quisermos permanecer dentro de um padrão de sanidade mental, temos de definir hora para o trabalho, para a diversão, para o sexo, para o flerte, para as atividades culturais. A partir disso estabelecemos papéis muito bem definidos sobre como devemos viver. Mulheres são cobradas a ter lhos, homens precisam agir de acordo com certos ideais de masculinidade, crianças são obrigadas a demonstrar alto rendimento desde cedo. Tratamos nossas jornadas como pacotes
de assinatura de TV: selecionamos itens para montar o combo da vida. E com isso vamos inventando uma totalidade extremamente frágil, porque quando um desses itens do pacote deixa de fazer sentido, tudo começa a ruir. Por exemplo, existe um padrão de sofrimento e depressão experimentado quando deixamos de ser considerados úteis na nossa função profissional. A professora que perde a voz, a técnica de enfermagem que desenvolve alergia ao látex das luvas. Ficamos doentes quando deixamos de trabalhar. Parece que fomos muito bem ensinados a colocar o trabalho como algo central à nossa existência. Mas a vida é uma experimentação de
trajetos múltiplos, e não um único canal de um combo que não representa a totalidade da nossa programação existencial.
Como fazer as pazes com as emoções sem a ajuda constante de medicamentos?
Se você precisa de uma medicação para conseguir suportar a vida, está na hora de repensar que vida você tem se imposto. Qual o sentido em obrigar o corpo e a mente a
corresponder a padrões estéticos e de comportamento, a não sofrer a menor dor, a trabalhar mais? Não há um caminho simples, mas existem várias reflexões possíveis
e recompensadoras.
Onde mora a beleza do que é imperfeito?
Imperfeição é tudo aquilo que foge à regra vigente. É um ruído dentro de uma estrutura padronizada. Em um mundo em que cada vez mais queremos nos padronizar em um senso comum, ser imperfeito é quase como um escape, um alívio para que possamos criar e imaginar outros padrões, pensar na possibilidade de experimentar outros mundos e propor microrrevoluções em nossas relações diárias. Sabemos que fugimos o tempo todo do esperado, do previsto. O que precisamos entender é que a imperfeição nos dá alento para continuar sonhando com outras formas de bem viver.
Ser imperfeito também é saber pedir ajuda quando necessário?
Sim, sem a menor dúvida. Aliás, não pedir ajuda parece ser o refexo maior da perfeição, porque indica que, mesmo que inconscientemente, você acredita ser uma obra acabada, pronta. E ninguém é. A vida é um artesanato constante. Cada um vai encontrando aliados que ajudam a cuidar de si ao longo da jornada.